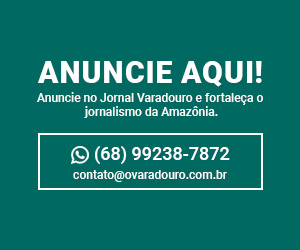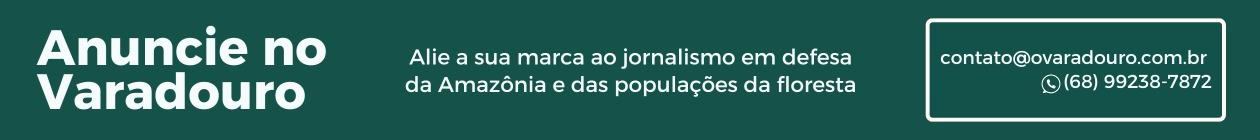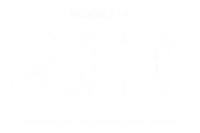E no fim, tu há de ver
que as coisas mais leves são as únicas
que o vento não consegue levar,
mas que o rio carrega pra lá e pra cá.
Íris da Selva
A frase que dá título a este texto é da socióloga, professora e militante acreana Jaycelene Brasil, que no seu processo contínuo e generoso de afrobetização, me compartilhou essa metáfora sobre como nós amazônidas – e me coloco nesse grupo como habitante, ainda que não nativa – tecemos nossa existência por entre a maior biodiversidade do planeta.
Infelizmente, quase sempre de costas para os rios que tornam possível nossas vidas, mas com olhos muito arregalados para os “centros” de poder econômico e político que traçam as coordenadas de como e quanto nossos corpos serão explorados pra geração de lucro e de como vamos viver e ocupar nosso universo interior durante as parcas parcelas de tempo em que não estamos trabalhando.
Oi, sumidos que por acaso ainda me lêem por aqui. Este texto começou a me escorrer pelos poros depois que pelo menos umas cinco amizades, todas de fora do Acre, me encaminharam a notícia de que uma jovem acreana, estudante de medicina da Ufac, teceu comentários xenofóbicos contra seu próprio povo em uma rede social. O que pareceria um absurdo, mas será mesmo? Ou apenas mais uma marca da colonialidade de uma gente que tece sua existência de costas pro rio? Se a gente redimensionar a discussão em escala nacional e encher a boca de Nelson Rodrigues pra colocar em termos de “complexo de vira-latas” será que tudo se torna mais inteligível?
Nas suas próprias palavras, Nelson Rodrigues, em 1958, tentava nomear “a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo”. Mais de meio século depois, incluindo-se aí quatro anos sob a presidência de gente devota ao Tio Sam, dá pra dizer que o termo pegou entre os setores mais críticos e progressistas do país, né? – Confesso que acho a expressão um bocado elitista, mas vida e texto que segue.
O que me interessa para o momento é ultrapassarmos a noção de que a colonialidade, como mecanismo de dominação econômica, política e existencial, está colocada apenas entre os países do “Sul global” e do “Norte global”, ao contrário, ela necessariamente também se perfaz de maneira interna entre as regiões de um país – e até mesmo dentro das próprias cidades em suas lógicas de gentrificação e concentração de serviços e lazer associadas a expurgos das populações mais pobres para bairros com cada vez menos acesso a direitos. Isso também é colonialidade.
E o babado das relações coloniais é que elas não operam apenas de fora pra dentro, mas também incutem sob nossas peles um gérmen que nos torna um lar adequado pra hospedar um duplo: o ser colonizado, vilipendiado de seus valores e saberes ancestrais, e o parasita do ser colonial, que, se beneficiando da própria torpeza, se alimenta das feridas que ele mesmo abriu e aponta que o “norte” para sua cicatrização é agir como ele, falar como ele, se vestir como ele, ocupar a mente com as mesmas coisas que ele se ocupa, transformar a arquitetura de seu lar e de seu rosto tal qual os dele.
O inteligente, o polido, o belo – como dá a entender os comentários da jovem acreana, oriunda de família abastada e influente na política local, ostentando um sobrenome que dá a marca daqueles que vieram de fora para construir suas vidas no Acre em cima da exploração do trabalho braçal e intelectual de vidas empobrecidas pela colonialidade. Como muitos o fizeram e ainda o fazem.

A colonialidade no Acre tem até nome específico: seringalidade. Aqui, o nordestino se torna uma raça autônoma que rima com pobreza, violência e apagamento da negritude. O indígena sinônimo de atraso e mais violência. Ambos extremamente explorados, violentados, estuprados e assassinados nas dinâmicas dos seringais. Reparação histórica? Algumas políticas federais e acesso a direitos em troca de votos na política local, e não nos enganemos, apenas com muito processo de organização e luta dos povos da floresta é que isso se deu!
E também não nos esqueçamos da chegada dos “paulistas”, estes que não vieram de Gaiolas, como os nordestinos, nem foram caçados a dente de cachorro, como os povos originários, e que puderam contar até com terras e insumos pra “desenvolver” o Acre. Uma política que o estado aprendeu com o governo federal brasileiro ao trazer trabalhadores urbanos e rurais europeus para embranquecer o Brasil, escamoteando a população negra recém liberta do cárcere à falta de empregabilidade formal, à miséria e à criminalização.
Na atual dinâmica da colonialidade interna do Acre, ostentar uma pintura de jenipapo não parece ser tão descolado quanto um chapéu e cinturão de cowboy. E comer carne de caça com farinha pode não ser tão cool quanto um blend de carnes num pão australiano de fermentação caseira, manja?
Quando a moça dos comentários em questão afirma que geneticistas devem ser chamados para estudar as “aberrações” acreanas é com essa memória que ela está dialogando. É com a política racista, muitas vezes fantasiada de ciência, que o Brasil aplica desde que entende que precisa se construir como uma nação, o que o faz de costas para o rio e de olho na organização eurocentrada de mundo. Mas se a gente se virar e olhar o rio, talvez a gente consiga ver melhor, se ver por dentro, encarar esse duplo de frente, na profundidade do rasgo das feridas coloniais e começar a lembrar das rezas e cânticos ancestrais feitos ao pé do ouvido das folhas de cada ordem.
P.S. Para saber mais sobre seringalidade, procurem João Veras, e para esse duplo em nossa psique colonizada, procurem Frantz Fanon. Leituras para uma vida inteira.
Leonísia Moura
Professora do Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul,, pesquisadora feminista e militante de direitos humanos.
Um corpo cearense criando raízes na Amazônia acreana.
leonisia.mouraf@gmail.com