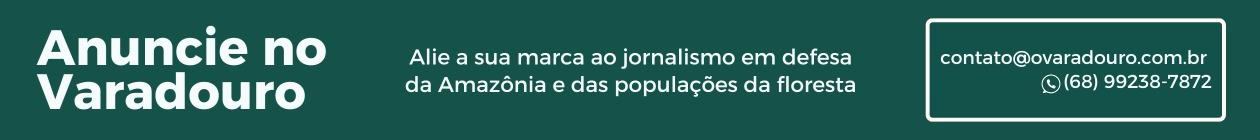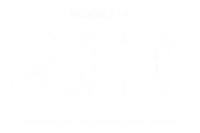I – SOBRE OUTRA TRADUÇÃO DA REALIDADE COMO AUTODEFESA
Os textos de minha autoria que tenho publicado aqui no Varadouro estão sempre, de alguma forma, fundados nas ideias de colonialidade e seringalidade, duas categorias – a primeira cunhada pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano e a segunda por mim – que se apresentam como possibilidades outras de tradução da realidade vivida que se operam, como epistemes políticas, em disputa para a significação/interpretação do mundo social em suas esferas global, nacional e local.
Com esses escritos, é possível ver o quanto tenho tentado fazer com que elas sejam organicamente entendidas através de casos concretos que trago dos campos da cultura e da arte situados localmente, mas em relação geosocial com a versão eurocêntrica das concepções de saber/poder e sua variação brasilcêntrica.
No presente texto, a pretensão avança mais um pouco nesse desejo. Quando me disponho a desenvolvê-las tendo em vista fundamentalmente o processo histórico de suas significações na esfera do poder pela qual temos passado no Brasil e no Acre, lócus privilegiados onde impera a condição colonial, o que tem se dado nos confrontos conceituais do mundo real que ganham operacionalidades, no caso, pelos relatos e reflexões sobre o percurso do entendimento, a partir de uma experiência pessoal.
Intento esse que busco realizar procurando não reduzi-las a meros conceitos descontextualizados, senão insistir em fazer com que as mesmas sejam organicamente compreendidas nos ambientes históricos em que se adquire, se reproduz e também se questiona saberes hegemônicos que pretendem por si espelhar a realidade vivida nas arenas próprias do exercício do poder colonial, justamente este que se verifica no território geo-sócio-político-cultural acreano.
II – O SENSO COMUM COLONIAL DE MASSA
Depois de passar pela infância, adolescência e parte da vida adulta levado pela onda do que vou cunhar de senso comum colonial de massa – que é, como defino, o modo pelo qual o grosso do corpo social é conduzido a adotar, legitimar e reproduzir a compreensão, sobre a realidade em que vive, a partir da versão posta pelo poder que o coloniza, explora e racializa – resolvi sair dele me desafiando na aventura do saber sem subordinação acerca do lugar – territorial, político, econômico, social e cultural em que vivo/convivo – de nome Acre.
Desafio esse pelo qual procurei mudar a minha percepção por buscar conhecer de outro modo – que não o da versão que nos governa/coloniza, essa que eleva à condição de saber legítimo e universal o produto do senso comum colonial de massa – a respeito da constituição, do desenvolvimento, da manutenção e do fortalecimento, sobretudo do que vige dominante como ordem social e política desse lugar.
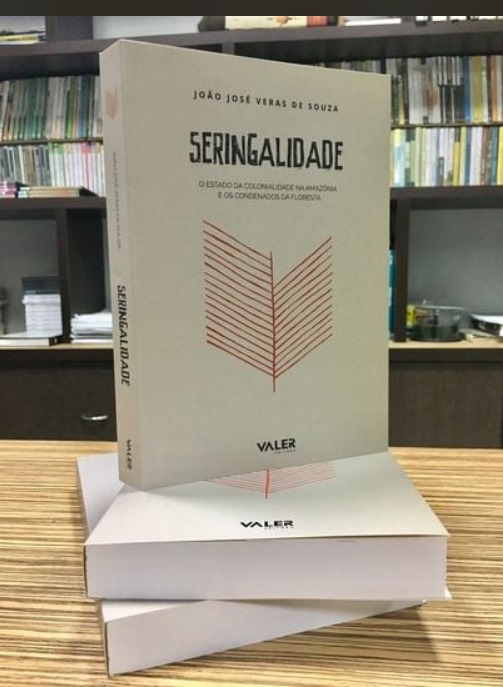
A perspectiva outra de saber a que me refiro parte da ideia/ação de poder político, com a qual procuro compreender, numa dimensão histórico-estrutural, quem domina, com o que domina e como domina a sociedade, seja com a força da violência, seja sem supostamente precisar dela, entendendo que toda forma de poder que é exercido com base na exploração e racialização é sempre por si violenta.
A violência inerente ao poder de que trato se expressa como tal de maneira muito pouco ou de nenhum modo apreensível pelos governados/colonizados, que dirá de forma crítica. Digo isso no sentido de que o poder que governa/coloniza se vale muito mais do saber – determinado tipo dele como um conhecimento válido e universal para todos – que da força bruta seletiva.
Nesse sentido, o básico necessário para um governo se instituir e se manter passa pelo o que levamos a aprender na condição de governados/colonizados a partir da referência matriz posta pelo sistema de educação formal, como um padrão de saberes que vai se informalizando acriticamente no seio social, se amalgamando pelo corpo das instituições do estado, das entidades privadas, dos grupos sociais, das famílias, pelos meios de comunicação de massa, pelos mercados culturais e religiosos, por quase toda a gente de boca em boca, de memória em memória, de pensamento em pensamento, de geração em geração, o que vai se constituindo e permanecendo como a macro narrativa autorreferente da verdade – isso que se constitui como senso comum colonial de massa – como se brotasse do nada (para alguns, do olimpo sagrado) e vai se petrificar em nossas mentes como um conhecimento naturalizado de tal modo que nos acomoda na crença de que sempre foi assim e assim sempre será; contra o que nada, absolutamente nada, se pode fazer.
Saber esse cujo produto é construído por quem governa/coloniza e ensina/nomeia a realidade justamente para manter o controle social e político – material e subjetivo – inclusive e principalmente para fazer com que sejamos seus reprodutores, e assim defensores, fato que tem sido, em geral, razão da sua legitimação/sustentação (quase) inquebrantável.
III – COLONIALIDADE
Trato de estruturas básicas como unidades matrizes incrustadas em nossas mentes, a exemplo pueril de acreditar e defender que o território hoje Brasil foi descoberto pelos portugueses. Que aqui não existia nada, isto é, o nada que para os colonizadores significa indígenas desnudos, sem saber, sem moral, sem crença, sem alma, sem humanidade. Fato histórico, na versão deles, a partir do qual os colonizadores passaram a impor (aos que aqui viviam/vivem) suas vestimentas, seus saberes, suas morais, suas crenças, suas línguas, seu modo de organização social, política e econômica, sua estética, sua forma de conceber e viver mundos.
“O que discuto na minha aventura de saber outro é que essa formação histórica, cunhada de seringalismo, fundou e estruturou social, política, econômica e culturalmente a sociedade acreana, baseada na exploração do trabalho, na concentração fundiária e nas racializações ontológica e epistêmica em face do(a)s indígenas e do(a)s seringueiro(a)s.“
É quando estabeleceram e deixaram como herança as suas cosmologias, isto é, suas formas de viver e conceber o mundo como hierarquicamente superiores àquelas outras formas que aqui encontraram – o que era colonialismo (um fato histórico datado) tornar-se colonialidade (o legado, sobretudo racializante e explorador, da experiência colonial que se mantém) – fazendo com que se perdure as crenças redutoras, ainda fortes, de que, por exemplo, homem é superior à mulher; que a pele branca do corpo da pessoa humana representa superioridade em relação às peles negra e indígena dos corpos de outras pessoas humanas; que seus saberes e suas crenças são melhores e mais elevados em relação aos saberes e crenças outras quaisquer etc, de modo a universalizar e dar-se como central e superior as suas particularidades em detrimento e sobre as demais.
E com isso tem-se ensinado a acreditar que a partir daí começou o processo civilizatório da região, o que significa os seus projetos ditos públicos de crescimento, de desenvolvimento, de progresso e, deste modo, de sua modernidade e modernização, o que continua até agora – tudo como promessa/esperança de que todos viveriam em condição de igualdade, liberdade e felicidade – o que, para os colonizados/explorados/racializados, nunca se realiza e desse modo vai se eternizando essa condenação histórica, cantada em prosa e verso, a que nos imprime como habitantes/cidadãos desse encantado lugar do futuro chamado Brasil. Mas futuro só amanhã, tal qual “Fiado só amanhã”, essa promessa infinda de comerciante estampada na cara dos clientes sem dinheiro.
Acredita-se, nesse passo, que somos um estado-nação independente desde o dia 9 de janeiro de 1822 – o “Dia do Fico”, o fico que nunca mais foi embora – desde quando acreditamos, mesmo que pela cabeça do colonizador, que passamos a nos governar por si – o si como esse dito inventado povo pátrio soberano – pelos nossos próprios pensamentos e ações etc.
Essa versão nos chega objetivamente como um constructo de verdade absoluta pelas pedagogias das ciências sociais e humanas produzidos pelas penas do eurocentrismo, por suas disciplinas de história, geografia, sociologia, filosofia, antropologia… seus dicionários e enciclopédias de conhecimento dito universal que nos tem (con)formado nos bancos escolares desde sempre, de onde saímos aprovados pela quantidade e qualidade da educação colonizadora que naturaliza a ferro e fogo o que nunca foi natural, senão uma construção social que subalterniza alteridades, racializa diferenças, coloniza, enfim, o que não se reflete no seu espelho.
Para afirmar assim, para instrumentalizar a minha intuição libertadora, tive o auxílio preciso da perspectiva crítica conhecida como pensamento decolonial – conjunto de saberes produzido por latinos-americanos, em sua maioria (os colonizados por suas versões da história desse poder colonial) que teórica e empiricamente vai problematizar e se contrapor a tudo isso e defender outra forma de saber – de compreender a realidade – que é também de poder, tal como, por exemplo, afirmar que não houve descoberta nenhuma senão uma invasão dos europeus ao território em que viviam pessoas humanas que, pelo fato de serem justamente próprias, passaram com as suas formas de viver a ser dizimadas e consideradas, desde então, inferiores pelo o que são e pelo o que sabem – que é, na versão dos colonizadores, o que não são e não sabem segundo os seus conceitos de ser e de saber válidos.
Essa constatação histórica-estrutural, que para alguns muito poucos é óbvia, tem sido ignorada pela imensa maioria, justamente a massa dominada objetiva e subjetivamente pelo senso comum colonial de massa, cuja única ideia de alguma mudança é a possibilidade reduzida de alteração, de fina superfície, na direção sempre personalística (com seus candidatos “salvadores da pátria”) da gestão dos poderes administrativo e legislativo como símbolos das esferas de domínio social internas ao estado-nação, o que não passa de um exercício de movimentação de peças de um mesmo jogo – um legítimo simulacro republicano – cuja função fundamental é não sair do lugar das regras estabelecidas para a manutenção da estrutura do poder colonial, esta posta a dominar, por meio da exploração e da racialização, para muito além do poder do estado-nação que não passa de uma filial geopolítica do Sistema Mundo Moderno-Colonial. Tudo sob o falso império do voto que nada muda, mantém!
IV – SERINGALISMO/SERINGALIDADE
E por aqui, por esse lugar Acre? O que fiz nessa minha aventura do saber incomum decolonial foi procurar ver como tal festejado processo civilizador/colonizador foi adotado no território acreano (sob o nome de uma suposta Revolução social de base), que o tirou da condição de tierras non descubiertas, a partir do final do século XIX e início do século XX, especialmente pela força do poder político, quando da sua instituição pela elite local preposta dos interesses externos – que é quando se tornou, solenemente pilhado dos estados-nação boliviano e peruano, uma extensão do território brasileiro a que se batizou de Acre.
O que encontrei por sobre o alto muro do senso comum colonial de massa foi um processo fundamentalmente colonizador nos mesmos moldes do que aconteceu a partir de 1500. Outros tempos e lugar, quando seus métodos e substâncias obedeceram a uma escala própria – um sotaque próprio – de acordo com seus tempo e lugar que são próprios.
“O estado surgido desse processo histórico nada mais é do que o novo seringal com seu regime de poder colonial que vou cunhar de seringalidade, o que se pode traduzir como a mesma estrutura de poder colonial do seringalismo, tal qual uma instituição central de poder por onde continua a prática da dominação, da exploração e da racialização.”
É uma história conhecida, aos costumes coloniais, na versão de quem domina. Tudo começa com a invasão de ditos conquistadores sobre um território então ocupado originalmente por suas gentes e suas culturas. Invasão essa, como aquela primeira, que não respeita a diferença, transforma-a num motor para a dominação, a exploração e a racialização, não só dos seus habitantes originários (os indígenas), mas também daqueles que foram trazidos como mão de obra, o(a)s aqui tornado(a)s seringueiro(a)s – o(a)s nordestino(a)s – e também do que passaram a chamar de recursos naturais locais – o meio ambiente florestal amazônico – a partir de então reduzidos a produtos de mercantilização e ainda tratados como pedras no meio do caminho do progresso.
Foi assim que a primeira célula de organização social, política, econômica e cultural – o território do seringal (o da produção do látex para a emergente industrial economia gomífera internacional) – se estabeleceu como centro a partir do qual se instituiu e se processou práticas de dominação, exploração e racialização. Célula esta extensão da experiência colonizadora substanciada pelo colonialismo já provada desde 1492 também com a invasão dos espanhois nas regiões que se passou a se conhecer como América Latina e Caribe.
O seringal foi o lugar literal da empresa colonial primeira. Nele se instalaram física e subjetivamente o seringalista (o chamado patrão dono do negócio da produção e comercialização do látex) e o(a) seringueiro(a) (seu/sua “empregado(a)” extrator(a) da seringa). O primeiro se estabeleceu territorialmente na zona da gestão do seringal, conhecido como Barracão, e o segundo na zona da produção, conhecido como colocação. Aquele, o território do colonizador, dominador, explorador e racializador. Este, o território de sua presa. Importa dizer que o gênero do primeiro não se altera em razão de que, por regra, tal prática se dera por via do braço e da mente masculinas.
O que discuto na minha aventura de saber outro – digo, na tese Seringalidade: O Estado da Colonialidade na Amazônia e os Condenados da Floresta (editora Valer, 2017) – é que essa formação histórica, cunhada de seringalismo, fundou e estruturou social, política, econômica e culturalmente a sociedade acreana, baseada na exploração do trabalho, na concentração fundiária e nas racializações ontológica e epistêmica em face do(a)s indígenas e do(a)s seringueiro(a)s.
A historiografia oficial, ensinada nas escolas e reproduzida na vida cotidiana, apresenta a violência desse processo colonizador como a fase inicial necessária para o alcance do que hoje se apresenta como processo civilizador da região e sua gente.
O raciocínio empregado como lógico pelo senso comum colonial de massa assim se põe: o fim do seringal resultou no fim do seringalismo que, por sua vez, constituiu a formalização da civilização acreana, esse “melhor lugar para se viver na Amazônia”, expressão cunhada em documento oficial do Governo da Floresta que contribuiu para implantação da Seringalidade sob o nome de Florestania.
Civilização esta, fundada, de início, como estado do desenvolvimento econômico, para depois ser repaginada de estado de desenvolvimento sustentável (categoria importada tida como a última palavra do capitalístico glossário geopolítico moderno), sempre o mesmo da promessa de vida melhor para todos, do presente e do futuro, em que a ideia de florestania é vendida, na verdade comprada com o nosso dinheiro e crença, como uma fase, a contemporânea, prometida como ainda mais superior do processo dito civilizatório empregado na Amazônia acreana.
Porém, o estado surgido desse processo histórico nada mais é do que o novo seringal com seu regime de poder colonial que vou cunhar de seringalidade, o que se pode traduzir como a mesma estrutura de poder colonial do seringalismo, tal qual uma instituição central de poder por onde continua a prática da dominação, da exploração e da racialização aliada à concentração fundiária, ao que foi acrescentado, na contemporaneidade, pelo sistema mundo moderno colonial (o poder capitalístico global que por aqui se manifesta por suas agências de cooperação e financiamento de ideias, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID), dois dispositivos de saber/poder, o de desenvolvimento sustentável e o de florestania, os quais operam como dois dos seus principais motores, objetivos e subjetivos, para a manutenção da colonialidade global que aqui vou cunhar, como sua escala local, de seringalidade.
V – O QUE FAZER DIANTE DO QUE NOS CAPTURA SENÃO SABER E DUELAR
Por fim, é exatamente este estado – como uma concepção de poder social dominante que nos tem governado/colonizado – que se encontra conformado/naturalizado no senso comum colonial de massa da sociedade acreana (mormente seus condenados originais e suas gerações florestais e também citadinas) como um fato-realidade histórico-estrutural indistinguível/inalcançável, pelo seu real significado colonizador/civilizador, cuja expressa ignorância social constitui a sua condição de manutenção imaculada e duradoura, até aqui.
Esse foi o registro sintético que vos ofereço da minha aventura mental de poder usar armas do saber insubordinado em detrimento do senso comum colonial de massa – como dispositivo de captura, pela linguagem/saber, do colonizado pelo colonizador – o que procurei fazer decompondo a invisibilidade da “nossa” normalizada condição colonial em suas expressões global (colonialidade) e local (seringalidade) que, em meio e em face ao/do império das mesmas, se (deve) luta(r) para sobreviver livre de coleiras coloniais.
Gostou do tema e quer se aprofundar mais? Adquira o seu exemplar de Seringalidade: O Estado da Colonialidade na Amazônia e os Condenados da Floresta (editora Valer, 2017), disponível na Livraria Paim. Para quem está fora do Acre, a aquisição pode ser feita diretamente com o autor por meio de seu e-mail.
joao_veras@hotmail.com