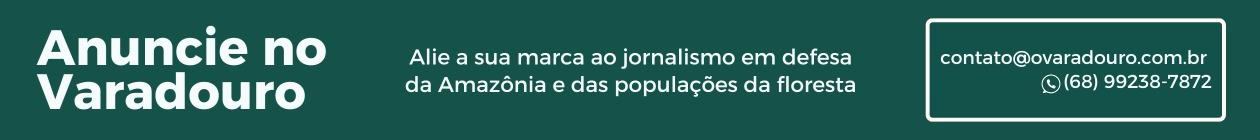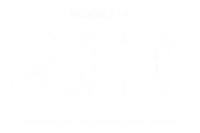A carta do Caminho (Quando a “Civilização avança sobre a Floresta”)*
A partir da crônica No Caminho da Floresta**, na qual o escritor brasileiro Affonso Romano de Sant’Anna descreve, como um relato de viagem, a sua estada na cidade acreana de Rio Branco, no ano de 2013, o presente trabalho busca produzir um breve exercício de leitura decolonial – no sentido de revelar/discutir teor sobremodo colonizador onde parece não existir – com o qual se possa identificar em que lugares discursivos é possível reconhecer práticas racializantes responsáveis, em grande medida, pela manutenção e avanço do processo histórico de colonialidade – sobretudo epistêmica – difundidas especialmente pelos europeus e os crioulos nacionais há mais de 500 anos no/sobre continente sul das Américas. Processo esse que têm subsistido pelas crônicas ou relatos de viagens que grassam – desde 1500 Brasil adentro – como manifesto de um tipo de colonialismo interno albergados, ainda em proporção importante, inclusive por linguagens literárias, dramatúrgicas, cinematográficas, plásticas e musicais.
O poeta – Quando completara a idade de 76 anos, em 2013, Affonso Romano de Sant’Anna, renomado poeta e escritor brasileiro, esteve pela primeira vez no Acre. Foi convidado pela Academia Acreana de Letras (AAL) para, em dois dias, proferir na capital Rio Branco uma conferência na Biblioteca Pública e autografar seus livros na livraria do Shopping da cidade, ocasião em que a AAL, que estava comemorando 75 anos de existência, lhe concedera o título de Membro Correspondente.
A viagem do escritor lhe rendeu a crônica No Caminho da Floresta, publicada em 27.10.2013, no Jornal mineiro O Estado de Minas. Por ela, o cronista lança suas impressões sobre o lugar em que visitou manifestando sua visão de mundo em relação à Europa, à América Latina, ao Brasil e ao Acre.
Este trabalho pretende fazer uma breve análise da crônica a partir de algumas marcas discursivas que reproduzem e reforçam assimetrias raciais, étnicas e nacionais constantes dos ambientes de significados simbólicos e do imaginário histórico moderno-colonial.
A crônica – A crônica em questão se apresenta como uma espécie de relato de viagem – do percurso geográfico interno que o autor faz de onde sai, Rio de Janeiro, até Rio Branco – pelo qual vai descrevendo o que observa e sente combinado com o que sabe, desde o aeroporto, dentro do avião e em alguns contatos com lugares e pessoas na cidade de destino.
Ele conta que viajou ao lado de um rapaz moreno e desconhecido que lia um livro de Pablo Neruda. Conta que no avião também estavam “uns franceses” que iam participar, no Acre, de um festival dos indígenas Yawanawá. A partir das referências, inclusive históricas, o cronista vai acrescentando informações, tecendo comentários e reflexões em torno, fundamentalmente, do “encontro” de um mundo civilizado com o outro que não é. Pelo relato, o autor expõe suas concepções, aceitando e, por isso, reproduzindo, por meio de um conjunto de binarismo hierárquico pressuposto, distinções raciais, étnicas e nacionais – “marcadores de civilização” – próprias do padrão colonial de poder instaurado, na América Latina, com as conquistas dos europeus desde o século XVI.
De fato, na crônica No Caminho da Floresta, as suas marcas se manifestam de modo reducionista. Tudo é reduzido a um tipo imediatamente colocado em relação ao seu par para efeito hierarquizante. O cronista se põe no lugar de enunciação epistêmico do civilizado, o que visita (e coloniza). O lugar visitado (do colonizado), o avesso deste, todavia candidato ao exercício das similitudes.
Nesse sentido, numa das suas passagens, o cronista é explícito ao apontar estar vivendo um momento histórico: “Quando a civilização avança sobre a floresta”. Aqui o binarismo assimétrico civilização sobre floresta, que remete aos binários civilizado/não-civilizado e cultura/natureza, é explícito. Esta afirmação sintetiza o espírito da obra que, por ela mesma (as impressões/percepções do cronista), responde: A civilização avança quando modeliza, dar nome e coloca o que não é civilizado – não moderno, não desenvolvido – no seu devido lugar.
Como observo, o objeto da crônica é o ente colonizado (geográfico, epistêmico, racial, ontológico) e o sujeito é expresso como o ente colonizador, o qual, como muito bem descreve Flávio Kothe, constrói “o seu objeto como projeção de seus pressupostos” (KOTHE, 1997) que, no caso da elite crioula, são pressupostos por ele aderidos por sedução do discurso da modernidade (de progresso, desenvolvimento, vanguarda, civilizado…).
Na sequência isto será demonstrado através das marcas discursivas que integram o texto, estas, em alguns casos, não exatamente ou necessariamente explícitas, mas, fundamentalmente, pressupostas, entendendo desta feita a ideia de pressuposto como “…aquilo que não é dito, mas que acompanha necessariamente o que é dito. É aquilo que no dizer já está sempre lá, implícito e inegável” (ORLANDI, 2008)
As marcas coloniais raciais – A crônica de Affonso carrega várias marcas coloniais, comecemos pelas raciais. No trecho específico da crônica, diz o autor:
(…)
”No avião para o Acre, ao meu lado, um rapaz moreno lia um livro de sonetos de Pablo Neruda. Mas havia também um grupo de franceses e francesas. Quando os vi sonolentos no aeroporto de Brasília, pensei: – De onde estão vindo e para onde vão esses gringos? Pareciam equipados para viagens estranhas, estavam apinhados de mochilas e com um ar de hippies de meia idade.
Embarcamos para Rio Branco. No avião o rapaz do livro com sonetos de Neruda dormia. Só ao chegar perto da capital do Acre pegou o livro do poeta. E lia. Enquanto isto os franceses estavam agitados como colegiais em férias.”
(…)
O Brasil com essa mania de ser grande não tem bem consciência de si mesmo. Os franceses estão indo ao encontro dos yawanawa. E levei dez horas para chegar aqui. O Brasil é longe do Brasil. E aquele desconhecido, talvez apaixonado, lê sonetos de Neruda no avião.
A crônica trabalha com binários assimétricos racial, étnico e nacional que reproduzem epistemes de um mundo ontológico visto, no caso racial, a partir das cores da pele humana e tudo que isto tem representado e produzido historicamente no campo das hierarquias coloniais. Ele faz uso de rótulos que determinam desde já a posição relacional de raça, etnia e nacionalidade dos personagens/lugares/histórias que “conheceu” e “conhecia” – isto é, que já faziam parte de seu imaginário – no Acre.
Já no avião, o que lhe chama atenção: um rapaz moreno e um grupo de gringos franceses e francesas (gringo: estrangeiro louro ou ruivo, conforme Dicionário Koogan/Houaiss, 1997). Sua pena registra, seus olhos veem um negro desconhecido (de procedência ignorada, imagina-se ser brasileiro) e um grupo de brancos (de procedência internacional, são franceses, são europeus). Um é identificado explicitamente pela cor da pele (negra) e outros identificados pela nacionalidade e de forma não tão explícita, mas igualmente importante, pela cor da pele (branca).
As ações dos personagens contribuem, pela descrição do autor, para a ratificação daqueles caracteres próprios das posições histórico-sociais construídas para o fortalecimento do imaginário que fundamenta as hierárquicas determinadas pelas estruturas/regimes de poder e de saber moderno-coloniais.
No avião, o rapaz moreno ora dorme, ora lê poemas, enquanto os brancos estão agitados. O rapaz moreno lê um livro de sonetos de Pablo Neruda – talvez por estar apaixonado, intui o cronista. Os franceses e francesas, por suas agitações, “pareciam equipados para viagens estranhas”.
De um lado, um ser que é passivo, posto que dorme (indolente, preguiçoso?) e é passional, lê poemas por estar apaixonado (irracional, instintivo?). De outro, uns seres que são ativos (produtivos, inteligentes?), que buscam aventuras (heróis, corajosos, exploradores, descobridores?), em um lugar exótico, a Amazônia acreana.
O rapaz moreno é também referido pelo autor como “aquele desconhecido” (invisível, algo que não existe, tanto que, embora tenha viajado ao seu lado, o cronista com ele não manteve qualquer diálogo – era ali algo somente para ser espiado, talvez) – como se, de outra banda, os outros não fossem desconhecidos – e não são, posto que visíveis para o autor (a referência de civilização?).
Para o cronista, o rapaz moreno não tem pátria. A marca da nacionalidade não lhe é atribuída uma relação com o outro, razão pela qual destituído da marca da europeidade/civilidade (KHOTE, 1997).
Ele é “apenas” um rapaz moreno, por isso um desconhecido (um nada?). O que lhe dá identidade/referência – segundo o cronista – é a cor de sua pele (morena, preta, negra, escura…), o caráter biológico(?), portanto. Não é a sua história, não é a sua cultura. “O diferente não tem aí identidade, ele não é”. “Ele é o não-ser diante do ser, ele não é.” (Idem).
Ele é moreno, ele é negro. Isto parece bastar! Estava dentro de um avião. Dormia, lia, era desconhecido. Chamaria tanta ou alguma atenção do autor se fosse um rapaz branco a ler um livro dentro de um avião? E seria somente por paixão o ato de sua leitura, enquanto umbranco? Parece que para a construção relacional, para a acomodação binária racial assimétrica própria de um mundo moderno-colonial, era preciso dizer que um negro desconhecido lia poesia por paixão e dormia no avião (inerte) enquanto brancos se agitavam (ativos).
“A floresta é tida como lugar primitivo, natural, atrasado… sobre o qual a civilização avança, ocupa, domina (com a visita dos franceses, do intelectual meio gringo e seu livro sobre o barroco, com internet, com ida dos indígenas aos EUA, para aonde vai o rapaz moreno que lê poesia, com imponente shopping, com esplêndida e portentosa biblioteca pública…).“
As marcas coloniais étnicas – No plano da marcação étnica, o autor se refere ao povo e à cultura Yawanawá de forma igualmente reducionista e binária eurocêntrica: Para Sant’Anna, eles são fazedores de festas onde se bebe ayahuasca – esta também reduzida a bebida, como afirma na crônica, que os artistas e os hippies nos anos 70 e 80 tomavam para obter revelações.
Para o autor, os Yawanawá são uma gente exótica que os franceses – os gringos – foram ver – gente que se espia; são aqueles que fazem curso – buscam conhecimento –“até nos Estados Unidos”; são os que procuram salvar suas tradições por meio da internet – instrumento da civilização a serviço do não civilizado. São primitivos – o não-ser da civilização – cuja importância seria, no caso, a de desafogar os anjos e demônios dos gringos e matar suas sedes do exótico.
A redução que o autor faz do povo indígena ao exótico e ao cultural se constitui numa postura de modo a negar a sua historicidade e sua alteridade e pela qual a cultura é vista de forma instrumental e utilitária a serviço/consumo do europeu, civilizado.
Há também, conforme o autor, a “tribo” que fora “achada” – descoberta – mas que resiste à assimilação (sic). Nesse passo, os indígenas continuam sendo “tribos” – no imaginário moderno-colonial reproduzido pelo autor – a serem descobertas pelo branco – os selvagens salvos pelos civilizados (aqui somos mantidos ainda no século XVI). Fôssemos comparar com os relatos dos chamados cronistas do descobrimento, fácil ver as semelhanças no trato destes – os europeus, os brancos e seus cronistas – em relação aos povos ameríndios encontrados, ou melhor pela lógica colonial, “descobertos”.
As marcas coloniais nacionais – Pelas marcas nacionais ou geopolíticas, os europeus e americanos são descritos como os universais que olham, analisam, nomeiam e definem o Brasil, seus primitivos indígenas e intelectuais crioulos, estes que, apesar de escreverem livros (civilizados, portanto), ainda continuam, na visão eurocêntrica, na condição de não civilizados (índios) – ainda estão meio fora do estatuto da modernidade. São os que – como centros, donos das medidas – a quem é permitido nos avaliar (nós a periferia).
O Brasil-nação é o avaliado, a periferia do centro geopolítico mundial. Assim, não tem consciência de si (como Centro-Sul/Sudeste em relação à sua periferia Norte/Nordeste); é distante de sua periferia Acre (melhor: sua periferia é dele distante – 10 horas para chegar a ela); tem mania de ser grande (com isto alimenta complexos de inferioridade/superioridade); é o Lugar que os europeus e americanos consideram atrasado, subdesenvolvido, incompleto, juvenil, primitivo…
A Bolívia-nação é reduzida àquele país que no passado perdeu o Acre para o Brasil. Derrotado no passado e sem presente (invisibilizado). Alemanha-nação tem o status de julgadora – posto que Centro – onde acontece a Feira de Livros de Frankfurt, lugar que vê o escritor brasileiro como indígena – não civilizado. América Latina (continente) – o objeto condenado ao imaginário do Europeu, que nunca termina (porque se reproduz nos próprios não-europeus), continente ausente cuja opinião de nada vale – o não-ser geopolítico.
Outras marcas coloniais – Por outras marcas coloniais racializadoras, os cearenses são tidos como aqueles que fugiram da seca e participaram do ciclo da borracha, – condenados/reduzidos a um fato histórico passado e que, no presente – representado pelo pintor Fernando França que mora no Ceará – é aquele que recebe–ciceroneia como um guia turístico – o intelectual do Centro (o crioulo) e aprende com ele.
O Acre é igual a floresta (os acreanos, aos povos da floresta), o lugar em que (para o qual) o barroco nada tem a ver por ser coisa de outro mundo (de um mundo de conhecimento superior?); para quem o seu mundo é a floresta, as seringueiras e Xapuri (discurso anti-heterogêneo); quem tem Chico Mendes como símbolo (discurso pró-homogêneo); lugar longe do Brasil centro – sua periferia; periferia que o Brasil (central) não conhece, e lugar estranho para aonde viajam gringos (imaginário, exótico…) e também os meios gringos (os internos, os nacionais, os crioulos, e os negros).
A floresta é tida como lugar primitivo, natural, atrasado… sobre o qual a civilização avança, ocupa, domina (com a visita dos franceses, do intelectual meio gringo e seu livro sobre o barroco, com internet, com ida dos indígenas aos EUA, para aonde vai o rapaz moreno que lê poesia, com imponente shopping, com esplêndida e portentosa biblioteca pública…).
O escritor/intelectual – o crioulo – é indígena que se deseja gringo (pois escreve livros…), aqui tem-se a marca da escrita nos livros em oposição à floresta, lugar de povos sem escrita; cumpre o papel de representante de um Brasil civilizado para os de dentro (embora não se conheça e seja distante) e de um Brasil ainda índio para os de fora; é aquele quem lança – e autografa – livro de tema (o barroco) inacessível à compreensão dos da floresta em livraria de “imponente” shopping da cidade (espaços civilizados – da escrita e do consumo), é o que profere conferência em esplêndida biblioteca. É o que é convidado a falar de literatura para a academia de letras local e ainda é tornado seu membro, o correspondente.
Chico Mendes é reduzido a símbolo, mito, do mundo da floresta (cidade de Rio Branco, Estado do Acre). Luís Galvez Rodrigues de Ária, personagem da histórica chamada Revolução Acreana, é reduzido à “Figura rocambolesca” – conforme imaginário da literatura (conforme se pode ver na obra Galvez, o imperador do Acre, Márcio Souza) – “aquela figura que virou romance e novela” e que “misturou interesses pessoais, sexuais e nacionais”, o que passa a ideia de que a história dos não civilizados é uma ficção a não ser levada a sério (negação da historicidade, de uma historicidade de conflitos sociais, sobretudo).
Concluindo – A crônica e seu autor revelam o lugar de enunciação. O cronista e seu desejo de ser o descobridor. O sujeito presente (os nós do cronista colonizador) e seu lugar de onde fala: a civilização, o Centro: “Nós os olhamos como índios”. “O que sabemos desta parte do Brasil conquistada à Bolívia? ”. “O que sabemos dos Yawanawá e dos Kaxinaua? ” – O “nós” é o sujeito civilizado (gringo para os índios e meio índio crioulo para os europeus) – o intelectual do Sul/Sudeste do Brasil central que escreve livros e continua sendo o cronista do “achamento” da sua periferia.
Observa-se, na crônica, que os binários raciais, étnicos e nacionais/regionais se encontram entre si destituídos de qualquer tensão e conflito. É como se suas relações – colocadas em um status em que o poder de um sobre o outro sem resistência é posto como um ethos a priori – fossem historicamente a-históricas, portanto hierarquicamente naturalizadas, evidentes por si sós e, por isto, harmônicas. Um desejo de unidade, a unidade europeia que avança – se apropria – sobre o que lhe é, para aquém de diferente, inferior.
É indiscutível que nosostros respiramos no dia a dia a cultura eurocêntrica e o seu martelar discurso – que se coloca como a referência modelar de poder, saber e ser, nos classifica como exterior a ela e nos seduz a entrar na sua totalidade – não só por meio do texto, do pensamento, mas também da imagem, da dramaturgia, dos odores, sabores, sons… O que não parece tão claro é quando ele se encontra incrustado em vozes que na aparência não se expressam ante seus caracteres sensivelmente subliminares ou pressupostos.
Pela análise, a crônica do literato brasileiro tem um papel importante nesse processo de naturalização das epistemes do imaginário europeu criado e mantido pela colonialidade, o padrão de poder baseado no critério de racialização/inferiorização do Outro.
De fato, tem razão o cronista quando afirma, ao final da crônica, que “O seminário sobre a América no imaginário europeu não termina nunca”. Não termina mesmo, sobretudo porque tal imaginário é reproduzido, portanto se sustenta internamente na América, graças, também, aos cronistas viajantes (externos e internos) que não cansam de inventar/reproduzi o seu Outro a partir dos lugares de enunciação epistêmica e social eurocêntricos.
Não se diz à toa, ainda, que a “civilização avança sobre a floresta”. A civilização como o branco europeu que chega; a civilização como o conhecimento que se busca nos EUA; a civilização como a tecnologia que salva as tradições indígenas; a civilização como o livro sobre o Barroco/outro mundo; a civilização como aquela que ainda continua descobrindo “achando” indígenas isolados; a civilização como a que olha a todos, inclusive os crioulos (meio índios) deste mundo primitivo, como índios inteiros; a civilização como a que continua nomeando e se pondo como a referência modelar, nos classifica como exterior a ela e nos seduz a entrar na sua totalidade, ainda como exterioridade, não na condição de igual, mas ainda de inferior…selvagens espiados.
Não se trata de se reduzir, na figura do escritor e de sua obra, o que se opera fundamentalmente nos planos das estruturas históricas do padrão colonial de poder. Não foi efetivamente o contato de dois dias com o espaço geográfico do Acre – limitado à cidade de Rio Branco – que o cronista captou e reproduziu o discurso de ethos tão colonizante.
Na verdade, os esquemas interpretativos da colonialidade – e suas marcas/oposições assimétricas – já fazem, há muito tempo, parte do seu construto mental, como se pode ver desde o seu poema Que País é Este?, de 1980, pelo qual já apontava e reclamava a condição do Brasil de ser um país bárbaro, por culpa própria (a menoridade culpável, segundo Immanuel Kant), pelas mazelas praticadas ao longo dos 500 anos por um “nós” genérico – e não eles, os colonizadores com seu colonial padrão global de poder, saber e ser.
Afirma Affonso, reza em seu poema Que País é Este?: “Vivo no século vinte, sigo para o vinte e um e ainda preso ao dezenove como um tonto guarani e aldeado vacum”. O então poeta Affonso nos coloca já ali no lado exterior da totalidade eurocêntrica, na Periferia, portanto não moderno, não desenvolvido, não civilizado (“como um tonto guarani”), tudo isto a partir das réguas do Centro – e não de si.
Era lá, como cá, o poeta seduzido pela ideia de civilização e de modernidade, os lados (in)visíveis da colonialidade. Agora na Amazônia, 40 anos depois (me refiro ao ano de 2013, ano da Crônica), o poeta cronista, aos 76 anos, descobre a Periferia de seu Centro e constata que “A civilização [já] avança sobre a floresta”.
Este é o seu registro, sem qualquer tensão, de um mundo agora aceito. Para Affonso, no Brasil do Que País é este?, ela, a civilização, ainda não havia chegado e já haviam se passado 500 anos! Mas hoje já avança, apesar dos bárbaros, os poucos que ainda resistem a serem assimilados sob a alcunha de isolados e, a exemplo dos outros, sem voz nas crônicas de “achamento’, desde lá, o início do processo colonizador do século XVI.
Pela crônica/relato de viagem de Affonso Romano de Sant’Anna, a civilização estava naquele avião a “caminho da floresta” – assim como na frota do capitão-mor Pedro Álvares Cabral – para o avanço sobre os não-civilizados, não-modernos, portanto, não-seres (índios) que a habitam. E ali estavam os outros tipos ontológicos (raciais) tão necessários a ela: europeus agitados, um negro desconhecido que dorme e lê poesia por paixão e o crioulo escrivão a escrever sua carta, a Carta do Caminho.
*Este texto foi publicado originalmente, em 2021, no formato acadêmico para a Revista Txai, v. 1, n. 1, Teatralidades Amazônicas-Práticas e Reflexões, do Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas da UFAC. O que segue aqui sofreu algumas alterações.
Clique aqui para a leitura do texto original
João Veras é poeta, músico e escritor acreano. Publicou, entre outras obras, Seringalidade, o estado da colonialidade na Amazônia e os Condenados da Floresta, pela editora Valer, 2017.