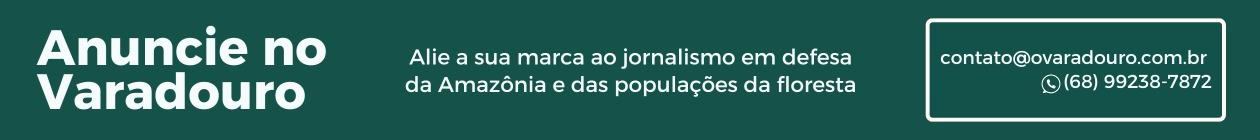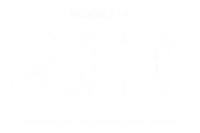Embora quando tentamos lembrar de raspão não pareça, a cidade de Rio Branco até que tem estátuas. Muito mais do que imaginamos. Esse tipo de monumento público que serve para mitificar as figuras humanas, animais e imaginárias que possam simbolizar, a partir de quem as concebe, modelos históricos tidos como ideais para o bem do mundo social do lugar em que são instalados.
É legítimo que uma sociedade destaque a céu aberto seus personagens para homenagear e referenciar o melhor de si. A questão que se pode indagar, para entender o significado memorial desse sistema público de representação visual urbana, é que ícones são esses, que modelos sociais representam afinal, e quem e por que meio os escolhe numa sociedade dita democrática.
Estou aludindo, quando falo de estátuas, a mais um dos produtos da historiografia oficial, os quais, sob o ponto de vista crítico, representam, como parte do empreendimento da colonização mental, a celebração e a legitimação do projeto político colonial que as ergueu, funcionando como a expressão da única e melhor versão da história do poder, do ser e do saber ao tempo em que busca encobrir, pelo desprezo do que lhe é diferente, as perspectivas outras que possam de alguma forma lhes contrapor.
Calcado nesta perspectiva crítica, este pequeno escrito observador fará um brevíssimo passeio analítico pelo mapa das estátuas da cidade de Rio Branco, que é constituído, em sua maioria, pelos chamados vultos da Revolução Acreana, todos escolhidos, adotados e mantidos sem a efetiva participação social.
Como as categorizo, são basicamente de dois tipos básicos. O primeiro é o das estátuas visíveis, que são utilizadas para consagrar e legitimar nomeadamente a versão historiográfica oficial. O segundo tipo é a das invisíveis – o das não-estátuas – as que cuja existência concreta teria a função de visibilizar as vítimas dessa versão historiográfica, portanto as que simbolizam concepções de ser, de poder e de saber que lhes são diversas.
Não há como tocar nas primeiras sem que as segundas gritem. É que, tal como uma moeda de duas caras manipulada reflexivamente, não há como existir uma sem deixar de existir a outra. Noutra forma de dizer o mesmo sentido, o desvelamento das estátuas requer, a um só tempo, o desvelamento das não-estátuas.
A estátua mais antiga é a do considerado herói nacional e dito libertador do Acre, Plácido de Castro, apresentado de corpo inteiro com trajes militares e espada em punho, instalada justamente na Praça da Revolução Cel. Plácido de Castro. Por outra perspectiva histórica (a do tipo invisibilizada de que trato aqui), é possível demonstrar por outras vozes que esse personagem não foi nem herói, nem libertador, tampouco revolução pode ser chamar o evento histórico do qual foi líder no campo de batalha que participou contra os bolivianos no início do século XX em tierras no descubiertas.
Tem também a do Coronel Sebastião Dantas que, muito embora não seja festejado como Plácido pela historiografia oficial, é também considerado herói da dita Revolução Acreana. Pai do ex-governador Wanderley Dantas, o seu busto se encontrava nas imediações do Mercado Velho, desde a inauguração da ponte de concreto (nos idos dos anos 70) que leva o seu nome. Hoje, no lugar, só restou a base em que estava instalado. A estátua sumiu e ninguém sentiu e sente a sua falta, inclusive o poder público, seu criador e guardião. Estranho…

Depois, ergueram pelo menos mais duas estátuas nessa linha de vultos históricos. A do Chico Mendes, que fica na Praça dos Povos da Floresta, personagem da história acreana cujo significado político foi sendo esvaziado como símbolo de uma luta e resistência do movimento social da floresta, de cor socialista, para ser erigido como um mito universal do ambientalismo sustentável desenvolvimentista capitalista. Muito provavelmente por isso, de potencial não-estátua, foi elevado à condição de estátua pelo poder.
Temos ainda a do Luiz Galvez, que fica na entrada da Assembleia Legislativa do Acre, cuja importância histórica é, em boa medida, desconsiderada em relação àquela dada à Plácido de Castro. O fato é que Galvez tem sido reduzido no imaginário social muito mais como um rocambolesco personagem carnavalizado pelas folhas da ficção Galvez, o imperador do Acre, do literato amazonense Márcio Souza.
Há um conjunto de estátuas só de homens armados que retrata a histórica cena da tocaia que culminou no assassinato do Plácido de Castro. Nesse grupo tem até a de um glorioso cachorro como coadjuvante daquele momento. Esta série de estátuas se encontra situada na região do Amapá, área rural de Rio Branco, onde muito pouca gente sabe onde fica. A ideia governamental que a criou era tornar o local um sítio de turismo histórico. Todavia, hoje, tanto o local como tal política pública estão em completo abandono.
Saindo da historiografia local, a Marinha do Brasil instalou, no finalzinho do ano de 2021, no Calçadão da Gameleira, a estátua do seu patrono, o Almirante Tamandaré. Mais um homem, mais um branco, mais um militar com a sua espada. O protótipo de herói nacional, para o exemplo e admiração de todos rio-branquenses, exatamente onde a Marinha do Brasil nunca instalou uma agência fluvial. Eis o legado da era bolsonarista fincado no chão da cidade de Rio Branco.
Existem aquelas estátuas que, à primeira vista, parecem nada ter a ver, como se fossem de outro mundo, a esse critério epopeico colonial de que venho tratando.
Duas são de dois poetas do século XX. A do peruano Cesar Valejo, cuja instalação do busto na rua Peru, Bairro Habitasa, foi financiada pelo Consulado Peruano, e a do Juvenal Antunes, natural do estado do Rio Grande do Norte que viveu em Rio Branco até 1941, quando faleceu.
A de Juvenal carrega uma particularidade. Foi inicialmente instalada na calçada de entrada da sede da Fundação Cultural do Acre Elias Mansour-FEM, que fica no Calçadão da Gameleira, quando ainda era da cor de bronze. Depois a removeram para o interior do prédio da FEM, na sua galeria de artes plásticas, quando ganhou a cor de ouro. Fato justificado, o da movimentação e não da cor, por razões de proteção ao patrimônio público. A extraíram da rua e a acomodaram no prédio público, cuja visitação está limitada ao horário comercial.
Importa ainda registrar que o poeta Juvenal está representado pela forma de um homem sentado ante uma mesa – possivelmente – de bar, segurando um copo – possivelmente – de alguma bebida, bebida esta – possivelmente – alcoólica. Poderia estar segurando uma caneta ante um papel, artefatos de quem escreve – possivelmente – poemas.
Uma terceira de aparente distância da realidade política local é a estátua da mulher grávida e obesa com uma criança no ombro, que fica na Maternidade Bárbara Heliodora. Esta escultura a mim parece ser, de todos os monumentos, a única que utiliza o corpo humano com status de obra de arte. Outra especificidade dela é que não se trata de nenhum vulto histórico senão, a princípio, um símbolo literal e universal de mulher grávida.
É possível aferir que a obra em si carrega um significado simbolicamente orgânico e patente que é o de homenagear e representar as pacientes do hospital-maternidade onde foi instalada. Todavia, no conjunto em relação com os demais monumentos e no contexto histórico da formalização de uma memória pública oficial, esta estátua operará outros significados, outras simbologias que entendo fortalecedoras da condição racializada a que historicamente os indígenas têm sido objetos-vítimas.
De fato, é possível identificar na estátua da maternidade traços biótipos de indígenas na mulher e, mais explicitamente, na criança. Tenho que a mesma se afigura, até então, o primeiro e único monumento público na cidade de Rio Branco e quem sabe em todo o território acreano, em que o corpo indígena é representado. No entanto, vazia de historicidade política.
De fato, é possível identificar na estátua da maternidade traços biótipos de indígenas na mulher e, mais explicitamente, na criança. Tenho que a mesma se afigura, até então, o primeiro e único monumento público na cidade de Rio Branco e quem sabe em todo o território acreano, em que o corpo indígena é representado. No entanto, vazia de historicidade política.
Continuamos diante de uma espécie de vitória perdurada da memória social engendrada no Acre pelo seringalismo/seringalidade, no caso aqui, glorificada por seus monumentos públicos coloniais. A velha fórmula eloquente e perene de dizer/lembrar quem foi, é e será o dono do poder por aqui.
É que não se trata ali de um corpo indígena exposto como uma representação conceitual de uma dada personalidade social, que represente o modelo de uma figura significativa seja lá de que qualidade for. O que se vê de forma expressa é uma mulher sem vestes, manifestamente obesa e grávida, na condição maternal simbólica de um ser feminino com o seu corpo reprodutor. Como um corpo que gera vidas. Um ente produtor/reprodutor de outra espécie. Junto a ela tem-se também um corpo de uma criança indígena, esta amparada e protegida pelo o que também se pode considerar ser o corpo de sua mãe, a grávida.
Tal exposição como se apresenta possibilita que pensemos, senão indaguemos, se seria um simples acaso o fato de que a representação indígena esteja, a rigor, reduzida na figura de uma mulher reprodutora e de um ser humano infantil.
É de se interpelar, diante delas, se uma representação simbólica dos tipos indígenas tem mesmo que significar a imaturidade – como de fato a impressão colonizadora e racializadora tem atestado historicamente – e também como tal a infância de uma vida ainda não civilizada (posto que primitiva, bárbara e selvagem), portanto ainda não desenvolvida, diante da cultura ocidental colonial?
Onde está a mulher indígena não reduzida à procriação, ao símbolo da re-produtividade, tal um animal é compreendido numa sociedade que só lhe vê como objeto de algum tipo de utilidade e consumo para o ser humano? Onde estão os indígenas masculinos e femininos adultos retratados publicamente nos logradouros públicos da cidade por suas glórias, lutas, desejos, crenças, dignidades, imaginações e arte? A resposta objetiva é que não existem. São as não-estátuas a serviço da revelação das estátuas estatais da cidade.
Uma quarta de natureza não epopeica (esta afirmativa é uma suposição que o contexto desmente), são as dos de três tipos humanos, aquelas gigantes de dois homens e uma mulher que estão no modo caminhar, ali no Novo Mercado Velho, as quais, ao meu ver, a despeito de retratar o povo acreano (como promete a sua placa alusiva), não parecem representar os biotipos ditos próprios daqui senão os perfis corporais de modelos de outra espécie, como as das categorias de estatura alta, esbelta, cabelos lisos e de rostos e corpos, longe dos tipos indígenas, negros e caboclos, senão de brancos. Pelo contexto histórico, não se pode afirmar que os imigrantes nordestinos, por exemplo, eram em regra brancos.
Pelo aspecto do padrão de peso dos três corpos, todos esbeltos, é curioso que, por outro lado, a retratação do modelo indígena da maternidade seja justamente gorda. Esse tipo de imagem talvez possa contribuir para a formação mental de uma idealização de corpos modelos outros – o paradigma de corporeidade – a se desejar como padrão.
Mas vai que podem os três anônimos personagens serem considerados como a resultante da miscigenação dos tipos daqui. Tudo pode. E se tudo pode mesmo, pergunto por que os biotipos indígenas e negros não estão ali representados? Seria porque tal representação excludente estaria afirmando da inexistência de negro e índio no Acre? Ou seria porque, considerando as suas existências, eles não corporificariam o modelo da forma fisiológica do povo acreano? Ou porque os indígenas não podem ser urbanos senão florestais e por tudo isso não retratam o povo acreano da cidade como aqueles três com passos largos de quem não tem tempo para ficar parado?
É possível apenas uma resposta que funciona como constatação histórica-estrutural. São as estátuas visíveis cumprindo com fidelidade seus papéis coloniais em suas vãs tentativas de encobrir as não-estátuas.
Pelo seu conjunto, todas estas estátuas visíveis vão constituir a memória manifesta da história do seringalismo. Um testemunho a céu aberto do que, enquanto produto da história (seja para o bem, seja para o mal), não se pode esquecer, é verdade. O que não se confunde jamais com a glorificação e legitimação do que representam, nem o encobrimento do outro lado da moeda.
Cabe fazer o registro da única estátua, dentre as epopeicas, que não apresenta forma humana, falo daquela que se encontra também na Praça da Revolução Cel. Plácido de Castro, criada para homenagear os heróis anônimos da revolução acreana, que seriam todos os seringueiros (a homenagem não se refere às seringueiras mulheres, e elas não existiram?) que estavam na frente de batalha sob o comando dos coronéis proprietários-seringalistas, estes que não são nada anônimos posto que regular e devidamente registrados com nome e sobrenome pela historiografia oficial. Que leitura se pode fazer desta medida escolha de não conceber cara e corpo para quem não teve poder na historiografia oficial?
Com exceção a do Chico Mendes, que a historiografia petrificou como exemplo de causa/luta perdida e a transmudou de outro significado, o vazio de sua politicidade local, e a dos indígenas da maternidade, é fácil constatar que não há estátuas de personagens seringueiros tampouco de indígenas, os condenados da floresta.
Uma ausência de tão radicalmente naturalizada que se torna por esta escolha calculada um fato histórico merecidamente verdadeiro. Que falta faz? Que heroísmos praticaram para a história e o desenvolvimento do estado? Nenhuma surpresa. As narrativas da história oficial vêm da boca de quem condena à condição colonial tudo que possa não ser espelho.
É de se registrar que a mesma estratégia estatal produzida, no seringalismo, de apagamento da autoria/presença de seringueiros nos eventos bélicos da tal revolução, estratégia esta patenteada na estátua dos seus anônimos da Praça da Revolução – com a concentração quase que integral do heroísmo revolucionário num único personagem (Plácido de Castro) – é praticada também pela seringalidade, em relação aos eventos de luta e resistência do movimento dos seringueiros das décadas de 70 e 80 no Acre, no qual igual glorificação e reconhecimento heróicos foram concentrados na figura de Chico Mendes (desta feita, mais como ídolo da sustentabilidade), restando os demais seringueiros e seringueiras a condição de reles anônimos sem rosto e sem corpo indignos de registro quiçá reconhecimento histórico, político e social. São os anônimos condenados da floresta, as não-estátuas da revolução.
Continuamos diante de uma espécie de vitória perdurada da memória social engendrada no Acre pelo seringalismo/seringalidade, no caso aqui, glorificada por seus monumentos públicos coloniais. A velha fórmula eloquente e perene de dizer/lembrar quem foi, é e será o dono do poder por aqui.
João Veras é poeta, músico e escritor acreano. Publicou, entre outras obras, Seringalidade, o estado da colonialidade na Amazônia e os Condenados da Floresta, pela editora Valer, 2017.