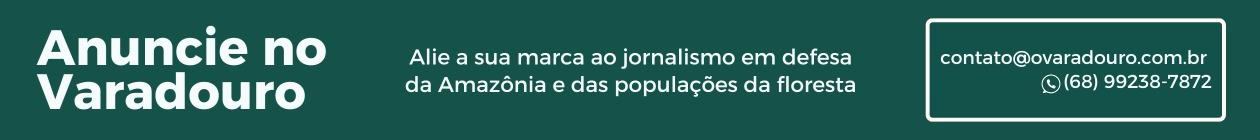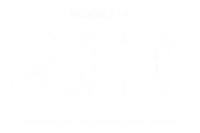Nos meus mais de 40 anos que atuo como jornalista profissional, o que mais me agradou fazer foi reportagem. E tive sorte por ter tido a chance de cobrir acontecimentos nada comuns em diferentes lugares da Amazônia. Se eu quiser montar uma linha do tempo, com as melhores matérias, devo começar com uma sobre a Vila de Sucurijú, na costa amapaense, publicada no Caderno 2 da “Província do Pará”, no início dos anos 1970. Na companhia do saudoso amigo Hélio Pennafort, me aventurei a fazer a primeira viagem no barco Marcilio Dias até o Oiapoque, pelo Atlântico.
Eu não fazia a menor ideia do que ia enfrentar quando o barco desatracou do trapiche São José, de Macapá, no final da tarde. Por isso armei minha rede junto a lona de uma lateral da embarcação achando que ficaria bem protegido. O Hélio já tinha aberto uma garrafa de pinga e me oferecido um gole, mas recusei, inocentemente. Enquanto navegávamos nas águas do Amazonas, longe ainda do arquipélago do Bailique, ia tudo bem. Tanto que me agarrei no sono.
Lá pelas tantas, creio que onze da noite, entretanto, sonhei que viajava num avião Boeing lotado de passageiros e que enfrentávamos turbulência. O avião caía em vácuos profundos e retomava o voo aos sopapos. Os vácuos eram cada vez mais frequentes e assustadores. Não tardou, acordei e percebi os trancos: após cada voo, que ia até a metade do barco, a rede voltava e batia forte na lona. Pulei fora dela, assustado, procurando o Hélio e a pinga.
Os dois estavam no biombo onde o cozinheiro Navegante, risonho, partilhava do copo e improvisava tira-gosto. Custei a aceitar que aquelas ondas doidas do mar eram comuns, e que o frágil Marcílio Dias pudesse atravessá-las incólume. E comecei a sofrer pensando que teria de fazer o mesmo caminho de volta.
Demoramos quatro dias para chegar ao Oiapoque, naquela tormenta, com uma parada na Vila de Sucuriju. Esta era (e provavelmente ainda é) uma comunidade de pescadores, de gurijuba e pirarucu, com 200 casas de frente para o mar. Para chegar até o porto é preciso percorrer um canal sinuoso, como a cobra grande que lhe dá o nome. Dizem que a bicha saiu do mar se arrastando e entrou na floresta.
Bom, já era tarde do dia seguinte e tínhamos que dormir por lá. Fomos recebidos com uma festa proposta pelo policial militar da vila que se encarregou de buscar as damas. Experiente, Hélio advertiu aos visitantes que não se empolgassem com elas, porque os maridos estavam em alto mar, na pesca, mas tinha olheiros no salão. Eu, depois do sonho que tive na véspera, preferi ir dormir mais cedo, procurando outro lugar para armar a rede. Havia mulheres e crianças a bordo, com destino a Oiapoque, e todas estavam assustadas, chorando e rezando.
Antes de deixar a vila, tive tempo de conversar com um líder local e pegar informações para escrever a reportagem. Ele me disse que não tinha água doce na comunidade; para beber e fazer a comida as famílias mantinham camburões na biqueira da casa para armazenar água da chuva, inclusive para todo o verão.
Um padre que morou algum tempo na vila construiu uma grande cisterna em frente a igreja, aberta, para receber água durante o inverno. Foi uma obra muito aplaudida. Também colhi informações sobre a gurijuba: um peixe incrível, de carne saborosa, que carrega um líquido viscoso na barriga.
Colocado ao sol, esse líquido endurece e é comercializado como uma cola especial. Os japoneses a utilizam na produção de sandálias e instrumentos cirúrgicos. Já os norte-americanos, a empregam na montagem de naves espaciais. Em Belém tem um escritório que se encarrega de comprar o grude da gurijuba e exportá-lo. Mas a vila não recebe tributos, fica tudo no Pará – se é que fica.
O certo é que as famílias dos pescadores não passam necessidades porque a venda do grude dá para comprar alimentos enlatados, lanternas, faróis e baterias (não tinha luz elétrica). Os enlatados são um complemento, porque além da gurijuba e do pirarucu, caranguejo dos graúdos dá no meio da canela. Juro que os vi caminhando lentamente, de banda, na direção das panelas. Também pude ver, pela primeira vez, uma pororoca se aproximando da vila, ruidosa e assustadora. E comparei seu barulho ao de um garrote bravo.
Quando a misteriosa onda alcançou a vila, a garotada ofereceu de graça um espetáculo para fecho da reportagem. Meninos de 8 a 12 anos correram ao encontro dela, montaram em troncos que eram arrastados e surfaram, de modo tão natural e belo, com gritos de alegria, que fariam inveja aos mais afamados surfistas do mundo.
Catrapiçal

O Hélio Pennafort (falecido) foi o jornalista mais amazônico e extraordinário que conheci no Amapá. Com ele aprendi a enxergar, como se diz aqui no Acre, as belezas que só o coração enxerga. Era um profundo conhecedor da alma interiorana de sua terra. Imortalizava seus personagens em crônicas maravilhosas, cheias de afeto e respeito, brincava com elas com enorme paixão. O cozinheiro Navegantes, do frágil barco Marcílio Dias, era um deles, aparecia em seus textos de modo tão especial que, ao sermos apresentados, pareceu que já éramos velhos camaradas.
Era um brincalhão incorrigível o meu amigo Hélio. Fiz outras viagens com ele, pras bandas do Oiapoque, aprendi muito sobre a região e como enfrentar perigos com ousadia e alegria. Suas reportagens e crônicas, muitas delas publicadas na Folha do Amapá que dirigi em Macapá, entre 1995 e 2002, são preciosidades que precisam constar em livros e serem recomendadas às escolas de todos os níveis.
Uma vez ele me pregou uma peça! Após a viagem pesadelo à Sucuriju e ao Oiapoque, pelo Atlântico, o barco Marcílio Dias fez uma outra com muitos passageiros, incluindo mulheres e crianças, mas no meio do caminho sofreu uma pane no motor e estava à deriva, sendo arrastado para o meio do oceano por poderosas correntes marítimas. Na época eu estava trabalhando como correspondente do jornal O Estado de S.Paulo e sugeri a pauta ao editor nacional.
Pra quê! O editor se interessou e me pediu para acompanhar a viagem trágica da embarcação. Procurei logo o Hélio, que já estava acompanhando a ocorrência pelo rádio e, com a ajuda de um mecânico, dando instruções para o encarregado das máquinas consertar o motor. Fiquei ouvindo a conversa aflitiva entre os dois e fazendo anotações. Depois de algumas horas, com a tripulação e os passageiros em desespero enfrentando altas ondas, o barco voltou a funcionar e retomou sua rota.
Que alívio! Fiz a matéria dando detalhes das recomendações passadas pelo mecânico e transmiti o texto para São Paulo, por telefone. Mas aí o editor quis saber qual a peça que tinha dado pane. Procurei de novo o Hélio e, já com o tempo esgotado, o localizei perguntando sobre a peça. “Foi o catrapiçal” – disse ele, cheio de sabedoria.
No dia seguinte, perguntei ao guru das águas amapaenses o que era mesmo essa peça “catrapiçal” que o pessoal do Estadão não conhecia, mas Hélio deu uma gargalhada daquelas, após o que respondeu: “Rapaz, essa eu inventei na hora!”
E eu tinha colocado o nome da peça no título da matéria que enviei a S. Paulo.
Elson Martins, jornalista e escritor acreano, nascido no Seringal Nova Olinda, em Sena Madureira, foi o criador do Varadouro na década de 1970. Também foi correspondente de O Estado de São Paulo para a Amazônia. Teve passagens pelas imprensas do Acre, do Amapá e do Pará. Agora, volta a escrever nas páginas digitais do novo-velho Varadouro.
Contato: almanacre@gmail.com