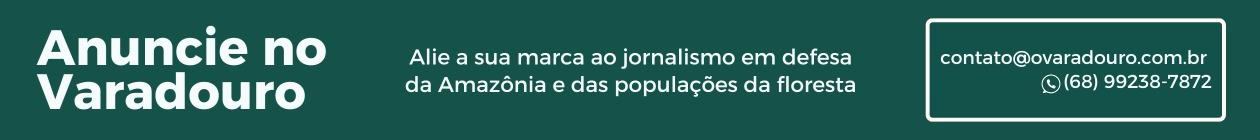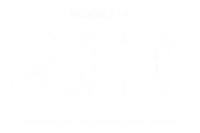Thaís Desana luta por dignidade indígena LGBTQIAPN+ em Manaus

A história da jovem pesquisadora que fundou o primeiro coletivo de indígenas LGBTQIAPN+ numa cidade conservadora e bolsonarista
Por Nicoly Ambrosio, especial para a Abaré
Conteúdo reproduzido por Varadouro em parceria
Um dia de calor, como muitos outros em Manaus nesta época, define a paisagem turva de sol quente na Rua Bernardo Ramos. Um pedaço da história do começo da colonização européia na região, essa é considerada uma das ruas mais antigas do Centro. O motivo de eu estar ali foi a ativista e artista indígena Thaís Desana, figura com importante voz na luta em defesa dos jovens indígenas LGBTQIAPN+ e periféricos.
Thaís me convidou para encontrá-la num espaço de cura e acolhimento na sua rotina, o Bahserikowi – Centro de Medicina Indígena da Amazônia, onde os Kumuã, anciãos indígenas conhecedores da medicina da floresta, disponibilizam tratamentos tradicionais de saúde e proteção. O centro é comandado por pajés das etnias Desana, Tuyuka e Tukano. Ela me explica como os especialistas dominam as práticas milenares de cuidado dos povos do Alto Rio Negro, a exemplo do Bahsese, que significa “benzimento”, na língua Tukano.
Thaís sabe disso porque seu mundo é permeado por esses conhecimentos tradicionais. Seu pai, Durvalino Moura Fernandes, da etnia Desana, é Kumu (singular de Kumuã). O pai e a mãe, Judith Fernandes, cujo nome de benzimento em Tukano é Yuhsio, são suas principais inspirações. A mãe é como se fosse uma assistente para os atendimentos de Bahsese que Durvalino faz. Professores e lideranças de comunidades indígenas, são conhecidos por serem figuras que contam histórias. A lembrança de afeto vinda deles é forte. “Eu sempre fui muito apegada aos dois, foram as minhas primeiras figuras que representam o que a gente fala hoje sobre a resistência e sobre o lutar”.
Thaís tem 25 anos, nasceu e foi criada no Distrito de Pari-Cachoeira, que faz parte do município de São Gabriel da Cachoeira, no rio Tiquié, fronteira com a Colômbia, na Terra Indígena Alto Rio Negro. Do povo Umuri Mahsã, “Gente do Universo”, como se autodenominam os indígenas Desana, Thaís é originária do grupo de descendência Wari Dihputiro Põrã, os “Filhos de Cabeça Chata”, de acordo com sua cultura.
Da infância vivida com seus pais e oito irmãos, lembra-se de brincar na roça e acompanhar os mais velhos quando eles iam fazer farinha, plantar e colher, coisas do cotidiano. “Lembro de dormirmos juntos no meio da roça, acordar, se alimentar, tomar banho no rio e fazer diversas atividades coletivas, sempre ouvindo os mais velhos e os seus conselhos. Todo mundo junto no mesmo espaço”.
Hoje, mora em Manaus, mas nunca se esqueceu de como é viver no segundo território mais indígena do Brasil. São 23 etnias e povos diversos vivendo na região. Essa diversidade cultural ajudou Thais a sofrer menos com a adaptação na capital amazonense.
“Vivenciar essa cultura mais do que falar sobre ela acaba fazendo com que a gente crie laços mais fortes com os nossos mais velhos também, e faz com que a gente tenha um espírito de liderança também. A gente sabe como lidar com a diversidade. Em São Gabriel da Cachoeira, a gente constantemente vive com essas pessoas de diferentes povos em todos os espaços, seja na escola ou fora dessas instituições. Eu tenho esse senso de pluralidade”, ressalta.
Na cidade de Manaus, a jovem fincou seu rumo aos 17 anos e percorreu um longo caminho de reencontro com sua identidade ancestral. Como muitos outros, queria estudar. Quando morava em São Gabriel da Cachoeira, não fazia parte do movimento indígena, mas percebia os impactos e dificuldades de ser jovem e indígena.

“Essa construção ocidental que é levada para dentro das comunidades e territórios indígenas, principalmente na educação, acaba fazendo com que a juventude e as crianças percam a noção da grandiosidade de ter uma cultura, uma língua e um povo. Essa imposição externa faz com que tirem isso de nós muito cedo, nos levando a sentir vergonha de ser indígena, de falar nossa língua e de pertencer à nossa cultura”.
Já estabelecida, libertar-se das amarras de uma educação ocidental foi o desafio que ela enfrentou para fazer o resgate de si mesma, de tudo o que viveu e que a transformou em uma jovem mulher indígena. “Isso se torna uma luta muito individual e pessoal”, pontuou.
O processo da retomada de si foi o primeiro passo na construção do espaço coletivo que ela buscava. “Precisamos falar de indígena para indígena. Quando entrei no ativismo e militância aqui em Manaus, foi através da luta pelas vozes da juventude indígena”.
A solidão de ser uma pessoa indígena e LGBTQIAPN+ em Manaus
Do movimento de se entender como indígena no contexto urbano, nasceu o coletivo Miriã Mahsã de Indígenas LGBTQIA+, idealizado em 2021 por ela e pelo comunicador e jornalista Pedro Tukano, seu amigo de longa data. O grupo contesta o duplo preconceito direcionado a pessoas indígenas, que não se encaixam em conceitos heteronormativos. São essas trocas de vivências e diálogos que nutriram a vida ativista de Thaís Desana.
O processo de se perceber como uma pessoa LGBTQIAPN+ dentro de um contexto que já não é o seu, em um espaço que não é sua casa ou sua comunidade, gera solidão. Thaís esperava encontrar em Manaus uma comunidade acolhedora, pessoas que pudessem entender sua vida, vivência e trajetória.
“Saindo de São Gabriel da Cachoeira, eu cheguei em Manaus com uma expectativa de encontrar uma diversidade real, uma comunidade acolhedora, pessoas que iriam entender a minha vida, a minha vivência. E aí, me deparei com uma comunidade que é quase que totalmente desunida. Eles geralmente não estão preparados para lidar com a diversidade indígena e com as percepções do que seria uma identidade indígena, uma identidade negra, uma homessexualidade indígena. É muito centrado em uma política branca”, reflete.
A falta de acolhimento na cidade fez com que a ativista se afastasse dos movimentos LGBTQIAPN+ urbanos, que não reconhecem plenamente a realidade de indígenas, negros, e pessoas que vivem nas periferias. O afastamento é reflexo da falta de conhecimento sobre a realidade dos jovens indígenas dentro e fora dos territórios. “Não conseguem imaginar uma pessoa indígena LGBT morando na cidade e enfrentando violências e apagamentos diários”.
O impacto do isolamento na vida desses jovens leva a desacreditarem que suas vidas podem melhorar ou que há real interesse em integrá-los nas agendas de políticas públicas. Para tirar esses jovens indígenas do isolamento e criar um ninho de conforto, é por isso que o Miriã Mahsã surgiu. Também é importante destacar a ação de politizar outros jovens sobre as demandas dos povos indígenas, para que incidam em seus próprios coletivos e lutas. “Nosso objetivo principal era acolher os jovens que, como nós, saíram de suas comunidades e se sentiram sozinhos em um ambiente desconhecido”.
Em dezembro do ano passado, o Miriã Mahsã realizou a primeira ballroom indígena feita na Amazônia, chamada de Espíritos Ancestrais, numa noite de dança, desfiles, aplausos e muita beleza. Sempre unidos, esses jovens trilham seus próprios caminhos e lutas paralelas, em coletividades que dialogam diretamente com suas realidades.

Campos de estudo
Durante o segundo dia acompanhando a rotina de Thaís, a encontrei no intervalo de uma das suas aulas no mestrado de Antropologia Social, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Lá, Thaís me conta que, apesar de ser uma celebração o fato de uma jovem mulher indígena como ela ocupar o espaço acadêmico, os desafios de permanecer naquele lugar são imensos.
A universidade é uma instituição historicamente branca e isso se reflete não apenas na composição do corpo docente, mas também nas atitudes e nas expectativas das pessoas em relação a sua existência enquanto pessoa indígena.
“Estar nesse espaço como uma pessoa indígena LGBT implica enfrentar uma estrutura que, muitas vezes, não acolhe, mas romantiza ou desvaloriza nossas vivências. Muitas vezes, os professores acreditam que já sabem tudo sobre a realidade indígena e tentam me ensinar sobre minha própria identidade, o que é frustrante”.
Por estar envolvida com movimentos ativistas e coletivos fora da universidade, Thaís também teve que lutar para conciliar essas agendas com as exigências acadêmicas. Para continuar com sua pesquisa, que aborda questões de identidade de gênero e sexualidade entre povos indígenas, com um foco particular no corpo, enfrentou os professores que frequentemente não entendem o motivo dela continuar no ativismo.
A jovem liderança bate o pé e não volta atrás na sua decisão de estar ativa nos espaços que a conectam com sua comunidade, e que também lhe dão forças para continuar em seu caminho de luta. “Não posso abandonar esses movimentos, pois eles também fazem parte da minha pesquisa, que trata de gênero e sexualidade entre povos indígenas”.
Mesmo assim, Thaís quer continuar sua pesquisa, porque entende que a sua presença nesses espaços é importante não só para ela, mas para outras pessoas indígenas que virão.“A luta é constante, tanto dentro quanto fora da academia. Tento politizar as pessoas ao meu redor, seja no coletivo ou em outras frentes, para que possamos criar uma rede de apoio e empoderamento. O trabalho é lento e cheio de obstáculos, mas é fundamental para garantir que nossa presença e nossas vozes sejam ouvidas em todos os espaços”.
Depois, nos encontramos em outro campo de estudo. Em uma região de periferia no Centro da cidade, há um refúgio para os mais jovens, como nós. À noite, a Praça Desembargador Paulo Jacob é ocupada por umas dezenas de bares, mesas para beber e jogar conversa fora.
O local desempenha um papel importante tanto na vida de Thaís como jovem ativista em Manaus, quanto na sua pesquisa acadêmica. O BK, como apelidamos a região, é onde ela se encontra com outras pessoas da comunidade LGBTQIAPN+ e indígenas, muitas delas estudantes e jovens trabalhadores.
No BK, eles podem conversar, se expressar e construir diálogos que vão além de questões pessoais. É espaço de convivência e trocas que resultam até mesmo no avanço em aspectos cruciais da pesquisa de Thaís. Ela me confidencia, rodeada por seus amores e amigos, que realiza entrevistas informais e observações sobre as vivências compartilhadas ali.

São as pessoas que movem seu trabalho. A jovem ativista destaca a importância desse afeto como uma “tecnologia” própria da comunidade, capaz de criar laços e fortalecer os coletivos. Essa união afetiva, segundo ela, é o que mantém viva a luta por direitos e reconhecimento, enquanto jovens indígenas e LGBTQIAPN+ continuam resistindo e ocupando espaços.
“Essas construções de diálogos vão desde conversas sobre a nossa vida pessoal enquanto indivíduos, mas também sobre o nosso trabalho, sobre o nosso estudo, sobre as nossas angústias, sobre os nossos próximos passos também. Acaba sendo essa ponte. À noite, a gente tem um tempo para vir para cá, um lugar que a gente conhece, que tem pessoas parecidas com a gente e nos sentimos seguros. A gente vem aqui, conversa e transforma no nosso espaço também. A gente percebe também qual é o público que aparece aqui, que é LGBT, jovem, pessoas racializadas e de periferias”.
Tecnologia dos afetos
A pesquisa antropológica de Thaís reflete principalmente sobre o corpo indígena e suas possibilidades. O corpo é central para compreender como os povos indígenas falam sobre seus afetos, sexualidade e identidades. Thaís não sabia como expressar essas ideias em palavras. Sabia o que queria escrever, mas tinha dificuldades em colocar isso no papel.
Foram as aulas de figuras importantes e as obras relevantes escritas e ilustradas por professores indígenas, como o escritor e antropólogo Jaime Diakara Desana, que lhe deram um novo direcionamento. A partir dali, pintaria seus pensamentos.
“Lembrei de uma habilidade que tenho: o desenho. Levei essa ideia para minha orientadora e expliquei que não queria apenas escrever meu trabalho, mas também desenhar e pintar. Desde então, meu trabalho se transformou em uma combinação de escrita e expressão visual, com desenhos e pinturas que dialogam com minha pesquisa e com as vozes do meu coletivo, de minha família e as minhas próprias”.
O trabalho se trata de uma autoetnografia que reflete a trajetória de Thaís e explora as concepções de corpo, identidade, gênero e sexualidade. A arte tem sido uma ferramenta crucial para expressar essas ideias, especialmente porque, historicamente, os antepassados não registravam conhecimento pela escrita, mas por meio da oralidade, dos desenhos e dos cantos. “Incorporar esses elementos no meu trabalho é uma forma de me conectar com a tradição dos meus ancestrais e com a realidade vivida por mim e pelas pessoas ao meu redor”.
O processo de pesquisa com pinturas a aproximou de outros artistas indígenas, que têm um olhar semelhante ao dela sobre as questões da arte e do corpo, “as trocas com eles têm enriquecido meu processo”. O interesse das pessoas em participar do trabalho reforçou a convicção de Thaís de que o que ela está fazendo tem um propósito significativo.
“Quero que meu trabalho vá além dos arquivos de uma biblioteca e chegue às pessoas, que possam ler, criticar, acrescentar e se identificar com o que escrevi e criei. É importante que sejamos nós a contar nossas histórias, sem que elas sejam narradas por pessoas brancas ou por aqueles que não compartilham das nossas vivências”.
A pesquisa é coletiva, pois as pessoas que fazem parte dela são próximas de Thaís: amigos, colegas de trabalho, membros do coletivo e família. Estão juntos falando sobre as suas vidas, seus corpos e identidades, como uma forma de arte. “Temos existido há muito tempo, compartilhando os mesmos espaços, rios e terras, e é hora de reconhecermos que nossa luta não é paralela, mas faz parte desse mundo”, diz ela.
Ela acredita que o coletivo se fortalece por meio daquilo que chama de “tecnologia do afeto”. A ampliação do campo de afeto com outras pessoas indígenas LGBQTIAPN+ permitiu que esse movimento se engrandecesse e se tornasse algo muito maior. É o conversar, abraçar, se relacionar, amar. “São tecnologias nossas que a gente não percebeu, mas que a gente acabou criando dentro dessa nossa realidade. O afeto é a nossa força, e é isso que nos mantém firmes”.